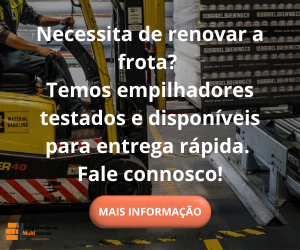No café Atlântida, em frente do graffiti de Al Berto pintado por Skran, uma reunião habitual de reformados comentava os concertos da marginal da madrugada desta sexta-feira. “Não tinha aquele pum-pum-pum que às vezes há nas outras festas”, dizia o tertuliano que ficou de costas para o poeta. Os seus companheiros de mesa dividiam os olhos pelo telemóvel e o Correio da Manhã aberto na mesa e os ouvidos pela crítica musical do conterrâneo siniense, enquanto passava por eles mais uma turista que depois de ter pedido um café, com sotaque afrancesado, percebeu que a casa de banho está avariada, por estes dias do festival. “Tem uma ali em frente, ao lado do Al Berto”, indicou o reformado do telemóvel, como que alheio à avaliação rítmica do concerto da Frente Cumbiero no palco marginal: “era assim um tsum, tsum, tsum com os miúdos a dançar quase até de manhã”.
Ali ao lado, no Pátio das Artes, estavam nesse momento a chegar as primeiras crianças para assistir ao atelier com músicos do FMM, que se cruzavam no corredor do Centro de Artes de Sines com um elegante músico de rua, alto e de vestes brancas que toca à viola temas de música brasileiros, diferentes dos que Rincon Sapiência — o “professor” que esta manhã esteve no atelier.

Pode ser redundante mas é imperativo dizê-lo: Sines vive música por estes dias. Duas ruas ao lado do elegante intérprete de Bossa Nova, um guitarrista contorcia-se mais do que a viola que guardava no colo para conseguir bater com o pé na pandeireta, que estava no chão, ao mesmo tempo que acertava os acordes e encontrava ar na caixa torácica para conseguir cantar a uma altura mais audível do que a do velho espanta-espíritos que tinha pendurado na cabeça da viola. Ainda ontem, no pico do Sol numa sombra em frente à Igreja da Misericórdia sentava-se uma cantora castelhana puxando a voz enquanto tocava craviola para uma rua Cândido dos Reis completamente deserta. Um pouco acima, no Largo Poeta Bocage, horas depois e a seguir ao concerto da Banda das Crechas, no alinhamento do festival, criou-se um grupo eventual de djembes, guitarra e didgerido e muitos bailarinos, igualmente eventuais.
O patriarca Rachid Taha
No recinto do Castelo de Sines, encimado por uma fotografia de Rachid Taha tirada por Mário Pires, que faz lembrar o quadro de um patriarca que se coloca no centro da sala onde se dão as reuniões familiares, os músicos que atuam no Festival Musicas do Mundo devem sentir-se observados. Nomeadamente os descendentes da expansão islâmica, desde o Afeganistão à Galiza. Em defesa da identidade e da língua, os galegos Banda das Brechas atuaram no dia nacional da Galiza, 25 de julho, e recordaram outro 25, o de abril, que comungam com os irmãos portugueses, como referiu o mestre-de-cerimónias de serviço, Manuel Amigo, “irmãos para sempre”, irmãos como Zeca Afonso – que “cantou a Grândola pela primeira vez na Galiza, não sei se sabeis?” – de quem tocaram o único instrumental, A Proa, com a letra de A Formiga no Carreiro. A identidade não impede o grupo de tocar uma música tradicional da Bretanha acompanhada de uma muiñeira ou o grupo de pandereteiras Cantigas e Agarimos, que os acompanha, cantar uma rumba: “Somos músicos do mundo”. O patriarca Taha haveria de ficar contente com esta declaração. E com o concerto dos Al Qasar na madrugada de quinta-feira, no palco marginal da avenida Vasco da Gama.

Seguindo os passos da fusão de, entre outros, Rachid Taha, a banda deixou-se influenciar pela pop psicadélica que foi surgindo nos Anos 1970 um pouco pelo Médio Oriente, entre o Líbano, Istambul e Teerão, com guitarras e oud – alaude árabe — tocados com pedais de distorção e baterias acompanhadas pelo darbuka, o Saz e o peculiar kanun. A banda surgiu em 2018 como forma de prestar homenagem a esta época pelas mãos de Thomas Bellier, que reuniu um coletivo de músicos de França, Marrocos, Argélia, Estados Unidos e Egipto e Jordânia, trabalhando entre Los Angeles e Paris. O resultado final para um neófito não é muito diferente de outras sonoridades de fusão árabe que já passaram pelos ouvidos, e não percebendo o árabe, nem o é a poesia que as suas letras revelam – canções sobre amor, liberdade, paixões e sonhos. E não é muito diferente do que faria o próprio Taha, do qual habitualmente tocam uma cover de Barra Barra, o que só pode ser lido como um elogio.
Curiosamente, 24 horas depois Al Qasar regressavam ao palco marginal, mas desta vez estavam na audiência, a dançar ao som da Fanfarraï Big Band. Também eles oriundos de vários locais, desde a Bretanha ao sudoeste do Mediterrâneo, reinterpretam uma tradição dos países árabes que ganhou força a partir de França com nomes como Khaled ou Cheb Mami. Propuseram não rock no Casbah, como Taha, mas garantem como no título do seu disco mais recente que “Raï is not dead”. E a julgar pelas várias centenas que os dançavam madrugada fora – até à entrada em palco da Frente Cumbiero – no palco marginal do festival, não está.

Num registo mais tradicional, Le Trio Joubran encantou o recinto do castelo ao início da noite e também em redor dos écrans gigantes que se encontram do lado de fora a retransmitir o que se passa em palco, pois as filas de entrada estendiam-se por dezenas de metros. Conhecedores dos alaúdes árabes como só os descendentes de construtores do Oud (o nome original) que são e exímios no manejo do mesmo – ao ponto de desencantarem um solo a quatro mãos dedilhando e denotando no braço do instrumento –, os três irmãos, acompanhados de percursão, teclas e violoncelo caminharam em direção à lua.
Ainda com cordas, ainda com o Mediterrâneo a servir de ponte musical, a noite prosseguiu mais terrena e rumbera com um dos franchises dos velhinhos Gipsy Kings, liderado por Diego Baliardo. Os principais temas da banda foram reinterpretados em ritmo buliçoso, quase rock, a uma velocidade quase impossível de acompanhar com as habituais palmas ritmadas do flamenco.
E se os Gipsy Kings tiveram tanto sucesso que a banda se dividiu em várias, os Kokoroko – “sê forte”, na língua urhobo – ainda se sentem meios espantados com o sucesso alcançado ao longo da tornée que estão a fazer e com a repercussão da cena Jazz londrina. “Ainda ficamos espantados quando as pessoas nos abordam e pede esta ou aquela música”; contou num encontro em Sines Ayo Salawu, o baterista do grupo. Pela reação de uma boa parte do público durante o espetáculo desta quinta-feira, o sucesso também já chegou a estas paragens.
Propostas dançantes e misturando vários sons do mundo, mas com um certo toque natural e lisboeta, associado à eletrónica foi o que trouxe Branko no ano do lançamento de “Nosso”, o disco de estreia a solo. “Minha nação é criola”, proclamou no final do concerto. Cantemos o mundo.