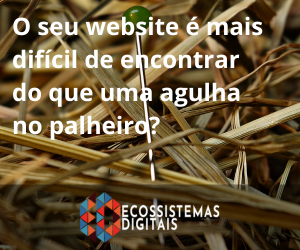É irónico.
Ou talvez apenas cínico.
Um Governo, que se proclama moderno, reformista, dialogante, decide ir ao baú da história e desenterrar um velho truque de poder: dividir para reinar. E fá-lo com uma subtileza maquiavélica: empurrando mulheres para a linha da frente de políticas que atentam contra os direitos… das próprias mulheres.
Nos últimos dias, as alterações ao Código do Trabalho têm incendiado sindicatos, movimentos sociais, plataformas feministas e até alguns sectores do centro político mais sensato. Porquê? Porque o que o Governo propõe (de forma quase clandestina, encapotada numa linguagem tecnocrática e desumana) é um verdadeiro recuo civilizacional. Um retrocesso no tempo, como se as lutas de décadas pelas licenças de maternidade, pela conciliação entre vida pessoal e profissional, pela equidade no trabalho e na parentalidade pudessem ser apagadas com um despacho bem escrito e um sorriso em conferência de imprensa.
Na mira estão direitos tão elementares como o tempo de amamentação, os horários flexíveis para pais e mães, o período de luto parental. Os mesmos direitos que, em muitos casos, não são luxo — são sobrevivência. São estrutura. São dignidade mínima. E, mais uma vez, são as mulheres que vão pagar a fatura mais pesada. Porque são, na esmagadora maioria, quem amamenta. Quem gere os horários familiares. Quem cuida. Quem sacrifica.
E o que faz o Governo? Põe uma ministra a anunciar os cortes. Põe uma mulher (competente, sem dúvida, mas cúmplice) a justificar que “não é bem assim”, que “há espaço para negociação”, que “a produtividade exige equilíbrio”. Como se a maternidade fosse um entrave ao PIB. Como se os filhos se criassem sozinhos. Como se fosse aceitável negar luto a quem perde um bebé.
Há uma perversidade simbólica em tudo isto. O PSD, que nunca escondeu desconforto com feminismos, com direitos laborais sólidos, com a ideia de que o Estado deve proteger os mais frágeis, tenta agora pintar-se de progressista. Mas fá-lo com as cores erradas. Como um lobo em pele de cordeiro, usa vozes femininas para impor medidas patriarcais. Troca o debate público por soundbites e confunde responsabilidade com obediência.
O Movimento de Mulheres Portuguesas foi claro: “estas alterações ferem princípios básicos de justiça social e de equidade de género.” A pergunta de maior pertinência foi feita: “O que levará este governo a uma ação tão furiosa contra os direitos das mulheres?” Talvez a resposta seja simples: porque são direitos que exigem redistribuição de poder. E isso, para quem governa com a mão invisível dos mercados e o olhar fixo em Bruxelas, é inadmissível.
Mas o teatro político não se faz só com protagonistas. No canto da sala, de bigode eriçado e punho fechado, o Chega esfrega as mãos. Conservador e antifeminista, sim. Mas astuto. Percebe o vazio, fareja o ressentimento, e veste-se de defensor das mulheres. Desde que sejam as “boas mulheres”: as que cuidam, as que não exigem, as que não protestam, as que sabem qual é o seu lugar. Mulheres “de família”, “de valores”. Mães, como convém à direita que gosta mais da mulher enquanto ventre do que enquanto voz.
Aproveita a deixa que o PSD lhe oferece e estende a mão às cuidadoras zangadas, às trabalhadoras desiludidas, às mães que sentem que o Estado lhes virou as costas. Recolhe dividendos eleitorais não porque se tenha tornado progressista, mas porque sabe reconhecer quando o centro-direita perde o fio à sua própria história. A cada passo atrás do PSD, o Chega avança um metro. E fá-lo com um sorriso paternalista e um discurso que mistura proteção com vigilância, apoio com controlo.
A verdade é que o PSD, nesta versão ligeiramente maquilhada, não gosta de mulheres livres. Não gosta de mulheres que pensam, que exigem, que contestam. Prefere-as moldadas ao silêncio, ao sacrifício, à conciliação permanente que as esmaga. O recuo não é acidental: é estratégico. E perigoso.
O que está em jogo não é apenas o tempo de amamentação ou o número de horas semanais. É a forma como uma sociedade define o que vale o trabalho, a maternidade, a perda, o cuidado. É o valor que atribuímos à vida, não apenas à produtividade.
O elefante voltou a entrar na sala. Desta vez disfarçado, com batom e blazer de ombreiras largas, a falar de “modernização” enquanto destrói os alicerces de décadas de conquista social.
E, no canto, saliva um abutre à espreita, pronto a alimentar-se dos estragos.